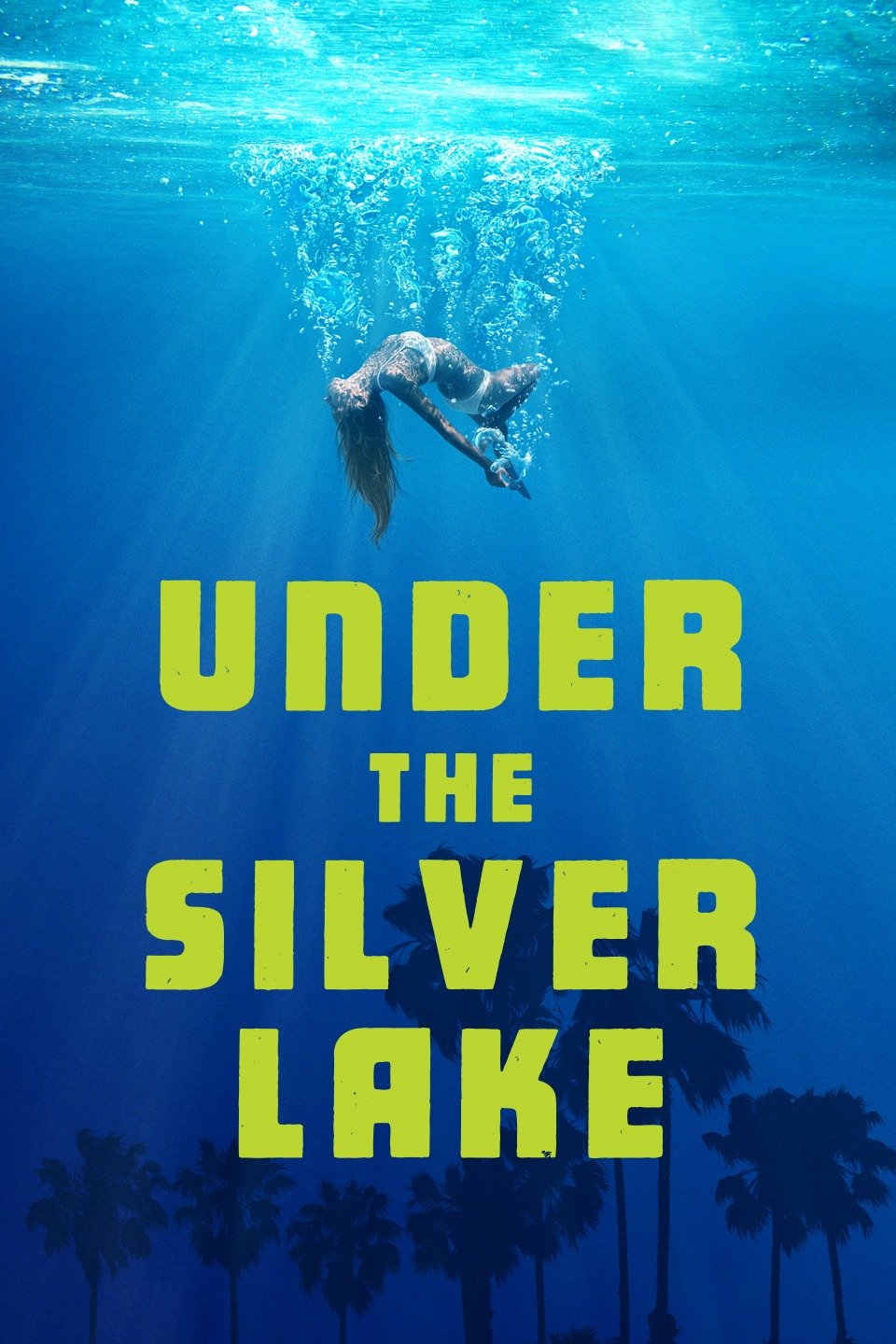
A crítica ao capitalismo,
ao mercado, ao consumo de massas e suas futilidades é algo que não está no
cinema desde hoje; e disto todos nós sabemos. Mas hoje há uma tendência
específica, tímida, mas relevante, na forma como são constituídas as obras
cinematográficas enquanto objetos e signos eivados deste intento: uma espécie
de redundância esquizofrênica, que pretende censurar em alguma instância a
futilidade, mas que insiste em tecer, para isso, narrativas que nada mais são
do que a persecução das experiências quotidianas de personagens que,
caricaturalmente, encarnam o tipo médio do indivíduo que compartilha de todas
as futilidades criticadas. É um exercício estranho, para dizer o mínimo: usar
todo o tempo de projeção a acompanhar a vida de gente medíocre e mesquinha,
absolutamente abjeta, aparentemente reconhecendo que “há algo de errado
naquilo”.
No entanto, não há nada de estranho. Estes filmes só
perseguem, do início ao fim, a vida dos fúteis porque tentam compreendê-las.
São condescendentes e querem saber “onde começa o erro destas pessoas”, dos
adolescentes comuns, vítimas do mundo cor-de-rosa do consumismo, como os
protagonistas asquerosos do “Bling Ring” de Coppola. No fim, não há, neles,
posicionamento crítico senão “autocrítico”: se a condescendência nada mais é do
que reconhecer a humanidade mesmo nos desumanos, ela também é aceitar, nestes
filmes, que todos nós podemos errar e sucumbirmos de corpo e alma às ondas da
moda, da cultura e do mercado onde todos estamos inseridos.
Esta autocrítica termina, porém, numa espécie de
confissão: “somos fúteis, gostamos um pouco disto. Nossos personagens são
exageros, exacerbos, caricaturas, mas temos um pouco deles e nos interessamos
por suas vidas”. E é neste ponto que todos estes filmes tornam-se monumentos
enojantes de louvor às inutilidades, a encarnação de seus próprios pesadelos.
No fundo são a crença fetichista e doentia de que, sim, é interessante
assistir, como no já citado filme de Coppola, à cleptomania de filhinhos-de-papai
que não se contentam em ser menos que Paris Hilton. São como os programas de
fofocas das televisões ou os telejornais que vivem das desgraças, dos
esquartejamentos alheios, mas são ainda piores, porque insinceros e arrogantes,
travestidos de consciência política e social (vejam só, que bonito)!
E tudo isto é o que é o mais recente filme de David
Robert Mitchell, “Under the Silver Lake”.
Uma
paródia nonsense, pretensamente cômica, de uma colcha de retalhos das mais
rasas referências cinéfilas e da cultura popular, o filme é um culto ao que de
mais medíocre há na juventude pseudo-culta do século XXI. O desfile de
vaidades: uma placa enorme com o (santo e aqui profanado) nome de Hitchcock,
inúmeros cartazes de filmes nas casas dos personagens, revistas Playboy e os malditos
vinis de bandas novas para aparentar o tão famoso “vintage”.
Além disto, parece que Mithcell é incapaz de constituir
um plano sequer, durante mais de 130 minutos de projeção, que consiga decupar
os espaços cênicos sem que pareça acometido de uma afetação forçosa, criada
para aparentar o mundo distópico e extremamente individualizado do
protagonista: são ângulos dos mais grotescos que a câmera tange nas cenas de
dança, o terrível plano inicial com a frase de efeito pintada na vidraça, que
termina no rosto Adrew Garfield, um tanto sonolento, numa aparência ridícula,
premissa do que teremos de enfrentar a partir dali: as viagens imaginárias
dignas de um usuário de drogas.
No fim, “Under the Silver Lake”, na sua inutilidade
congênita, na sua ode à vaidade, é ele, também, um filme vaidoso, de um diretor
arrogante, mas parcamente ignorante, que num ímpeto acumulador amontoa a seu bel
prazer referências culturais e cinéfilas, esbanja, para quem quiser ver, o seu
conhecimento baixo, que considera digno de algum louvor, de alguma
inteligência, como se as pretensões ridículas dos périplos de seu herói imbecil
fossem as mesmas suas, de pular “de galho em galho” entre uma e outra
referência, divertindo o espectador ao ver na tela nomes dos já pré-históricos
artigos de museu: James Dean, Janet Gaynor e, é claro, Alfred Hitchcock.
Curiosamente, o último filme de Mitchell, “Corrente do
Mal” foi um êxito e também um êxito de humildade. Como este “Silver Lake”, era
um filme de resgate a gêneros um tanto esquecidos no circuito comercial
norte-americano: se o filme mais novo é um neo-noir, “It Follows” era um
slasher, mas não uma acumulação cinéfila arrogante, um slasher original, que
não devia muito ao passado, permeado de planos enigmáticos, alguns muito belos,
e cuja interessante premissa (um assassino abstrato, “it”, que persegue, como a
justiça e a culpa, os pecadores) havia sido bem desenvolvida. E isto é uma
lição, afinal de contas. Para Mitchell, que andou incursionando tanto pela
teologia quanto pelas referências internas à cultura, fica a máxima: os
humildes serão exaltados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário