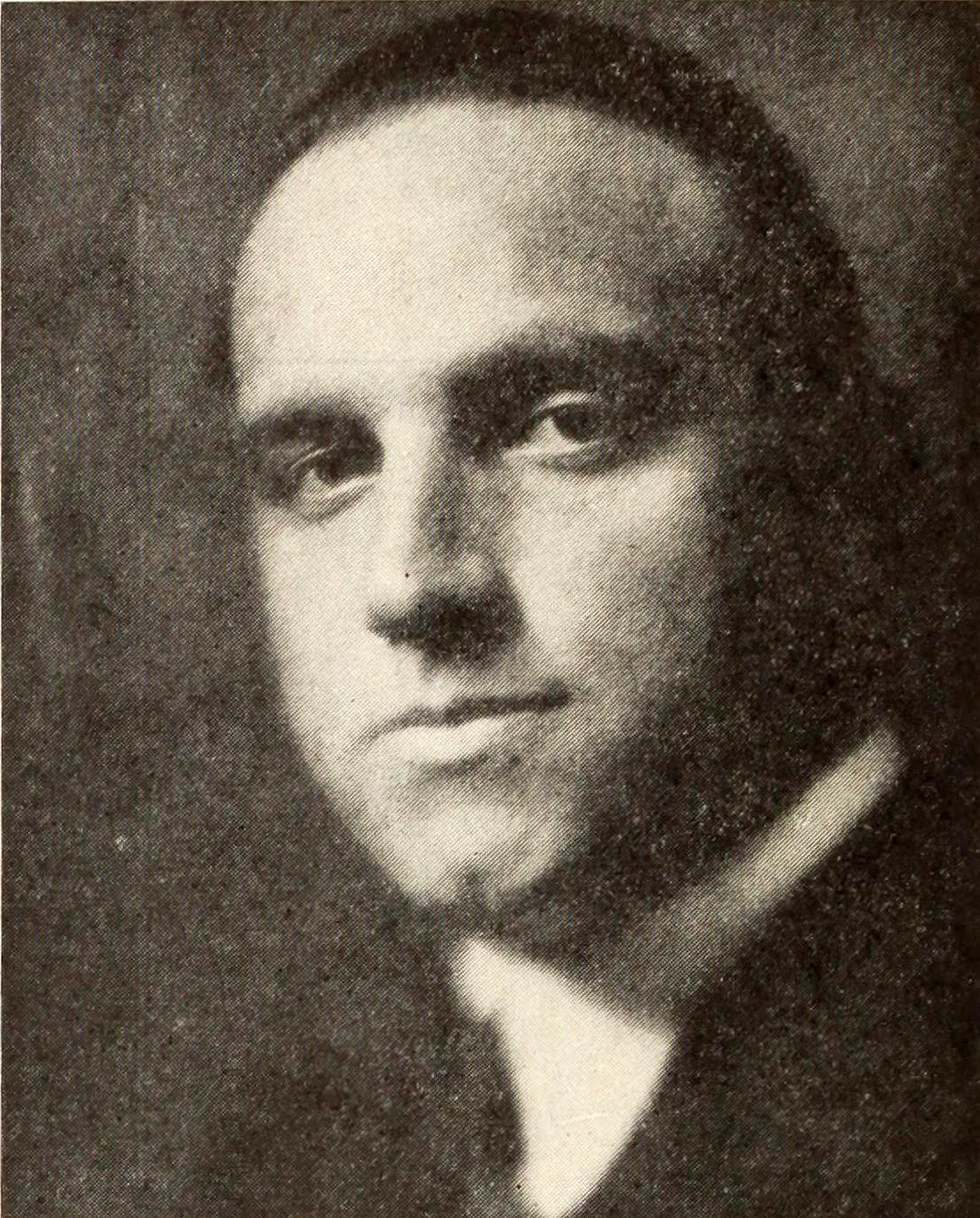
Toda
arte narrativa é uma questão de tempo. O exercício virtuosístico de todo
artista da narrativa é, antes de tudo, a representação certeira de alguns
elementos da realidade no seu devido
tempo, mais do que em seu devido lugar. É natural que, neste sentido, o
papel de um certo sentido revelacional do enredo seja muito importante: as
surpresas e as reviravoltas de uma determinada trama são inegavelmente,
espécies de clímaces que dão sinuosidade ao tortuoso caminho do drama narrado e
ao mesmo tempo ressignificam todos os elementos nele presentes: não só a
história como um todo ganha novas tonalidades com estas revelações, mas o
sentido dos mais diversos signos que nela estão presentes podem, neste processo,
ser modificados e ganhar maior completude.
O papel desta sistemática
revelacional é bastante complexo, certamente: quantas formas haveria de
desvelar ou de ocultar momentaneamente os elementos narrativos, a fim de que
somente surgissem na devida hora? Como medir o limiar, por exemplo, da
aplicação certeira de figuras de linguagem que pudessem levar a cabo tudo isto?
Qual o lugar da elipses, das metáforas? Por certo, seriam questões originantes
de uma discussão inspiradora, mas bastante longa, à qual aqui não pretendemos
nos deter.
Queremos, no entanto, pensar um
pouco acerca de um pequeno exemplo, certamente inusual, mas igualmente
bem-sucedido, de grande virtuosismo narrativo no que tange a esta seara das
revelações na arte. Um pequeno filme de Allan Dwan: “A Sereia dos Mares do
Sul”. Estrelada por Virginia Mayo no papel de uma mulher ambiciosa e
sedutora, a produção tem um argumento
relativamente simples: uma mulher (Mayo) e seu amante resolvem se unir a um
antigo conhecido para desvendar um mistério vindo do mar junto a um náufrago
por ela resgatado, que trazia consigo uma pérola negra valiosíssima,
teoricamente retirada de um tesouro numa ilha perdida.
A esta premissa inicial, no entanto,
se ajuntam profusamente detalhes e mais detalhes: de pronto, o novo comparsa do
casal de caçadores aceita a empreitada. Mas desde o início parece estar mais
interessado na diabólica loira comprometida com seu colega do que com as
pérolas escondidas. Tudo isto se passa num pequeno barco e, em questão de instantes,
a mesma Mayo que estava ao lado de seu amante num cômodo da embarcação está a
beijar, naquele mesmo lugar esguio, o comparsa nela interessado. De modo
igualmente ligeiro, seu namorado avista tudo, os dois homens se atracam, tiram
sangue um do outro, mas são interrompidos pelo anúncio: “Terra à vista”. Acabam
com a briga imediatamente, se perdoam e vão trabalhar para conseguirem dar cabo
àquela aventura de um milhão de dólares.
Há duas coisas muito curiosas nesse
preâmbulo: primeiro, a instauração do triângulo amoroso de forma muito estranha.
No fundo, há uma certa aceitação daquela condição, em vista de “um caso mais
sério” (pelas pérolas, vale até aceitar que sua mulher dê alguns beijos em seu
colega). Segundo: a rapidez inusual destes acontecimentos. Não haveria exagero
nenhum em dizer que alguns dos episódios que acabei de narrar duram poucos
segundos. Questões graves, revelações fortes, aparecem e se dissolvem a passos
de maratona. E, por isto, ficamos um tanto atônitos ou, mais ainda, um pouco
fascinados com um certo toque fantasioso que há nesta condução do enredo: tudo
o que acontece pode, magicamente, ser substituído por outro fato ou pode se
tornar desinteressante muito rapidamente. Em uma questão de segundos.
E será mais ou menos neste mesmo
ritmo que o filme caminhará até o seu fim: numa seara intrincada de problemas e
de soluções que surgem e desaparecem numa revoada incessante de apenas 82
minutos de duração. Poderíamos tentar, até por isso, falar de “fluidez narrativa” para aquilo que Dwan
instaura em sua obra. E isto poderia ser admissível, mas desde que explicado em
termos muito restritos. Quando tratamos daquilo que costumamos chamar “um
enredo fluido”, queremos nos referir a um conjunto encadeado de acontecimentos
que se conectam de modo que o vínculo causal entre um e outro episódio se torne
algo tão natural que não seja muito percebido. Ao mesmo tempo, quando nos
referimos a este tipo de enredo, também queremos representar aquelas histórias
em que este caráter natural da causalidade narrativa é gerado sempre pela
virtuosística alocação dos episódios em seu tempo certo: por tudo ocorrer em
seu devido tempo, numa estrita economia, não nos entediamos ou percebemos o
tempo passar. O enredo é apreendido, assim, por nós num único e contínuo fluxo.
Isto, obviamente, se aplica só em
partes à “Sereia dos Mares do Sul”. Aqui, apesar de haver uma certa fluidez
inexplicável, mágica, dos acontecimentos, o seu vínculo causal não é nada
natural. Mas, daí, viria o questionamento: se não é nada natural, porque é que
o aceitamos? Qual o limite entre o sem sentido e o fantasioso que faz com que
nos encantemos com esta história?
Me parece que há uma outra
naturalidade (aí, sim) que explique isto: Dwan conduz uma história de
acontecimentos muito fortes, remarcáveis, e que são introjetados pelos
caráteres de seus personagens com absoluta seriedade, mesmo que muitas destas
problemáticas durem pouco. Há, em todos aqueles que se colocam nesta revoada de
desventuras, uma entrega profunda a todos estes sentimentos confusos. Há neles,
por isso, uma grande credibilidade. Ou, pelo menos, a credibilidade de que
situações tão ambivalentes e mutáveis possam ser bastante humanas. Este sentido
narrativo é vetorizado principalmente pelo fio condutor de toda a história: a
protagonista interpretada por Mayo. Ela é, ao mesmo tempo, a mulher que faria
tudo para ser rica com as pérolas negras e aquela que se sacrifica de modo
maternal quando um nativo da ilha secreta se acidenta ao cair de uma árvore. É
ela quem zomba de Deus ao se fantasiar de missionária puritana para convencer
os nativos a deixá-la ficar na ilha, mas é também ela que, num átimo, é capaz
de transformar-se, da pecadora, na pessoa mais crente daquelas redondezas (a
única cujas preces são atendidas). É por isso, por seu caráter tão humano, exposto
na mesma cadência exótica do filme, que talvez a narrativa se torne mais
palatável para todos nós, enfim.
Mas não pode ser somente por isso. Se este é o
fio condutor que nos faz compreender a direção pela qual esta história caminha,
há outros artifícios que fazem com que ela dê-se a ver de modo cada vez mais
claro para nós. Parece que não só Mayo, mas todos os personagens da trama são
apresentados como pessoas que lutam a ferro e fogo por todos os seus sonhos,
mesmo que eles sejam os mais intempestivos e contraditórios. Essa contradição
interna a todos eles, psicológica mesmo, é uma instabilidade constante que, por
ser generalizada, dá credibilidade ao fato de que a obra como um todo possa ser
conduzida nesta mesma instabilidade sem que consideremos isto um defeito, mas a
consequência dos entraves entre os desejos de diversas personalidades
indomáveis (mas não caprichosas).
Além disto, a própria representação
cênica que Dwan dá aos fatos que envolvem a vida destas pessoas parece dar a
estas abruptas mudanças um caráter factível ou artisticamente apreciável. Os
cenários claustrofóbicos, principalmente nas cenas filmadas no barco, não dão
conta de “dar espaço” para que cada coisa aconteça de cada vez, para que cada
personagem reaja separadamente àquilo que a cena lhe impõe: muitas vezes os
espectadores se veem confrontados com imagens dúbias, em que os atores em cena
parecem estar cada um envolto num drama pessoal bastante alheio ao outro, mesmo
que ambos estejam assustadoramente próximos no espaço cênico, algo que recorda
bastante alguns esquemas de encenação teatral. Aliás, é também por essa
claustrofobia cênica que a ópera e o teatro prosaico são tão famosos por suas
mudanças contextuais tão abruptas. Aqui não poderia ser diferente: há uma
economia enorme para tudo: pouco tempo e pouco espaço. Se a duração da projeção
é mais curta que o habitual, o poder de suas imagens se condensa nesses
cubículos, em curtos e certeiros gestos: desde o sorriso luxurioso da
protagonista loura num close inicial, logo que é vista pelo comparsa que a ama,
até a curta prece feita pela mesma personagem perto do fim do filme, quando
ela, com os olhos brilhando, agora num plano mais médio, mira o céu e clama
para que todas as desventuras que até ali haviam ocorrido se dissipem. Essas
imagens potentes, condensadas e magistralmente dirigidas, por serem capazes de
retirar um arcabouço imenso de significados de pequenos gestos corporais ou de
pequenas posições cênicas, são mais um voto de credibilidade nesta obra
dwaniana.
Enfim: desta vez não aceitamos a
fluidez dos ocasos por ser natural, mas por ser arrebatadora. É este o senso
fantástico de “A Sereia dos Mares do Sul”. E agora voltamos ao nosso ponto
inicial: o virtuosismo da arte narrativa, aquilo que nos faz admirá-la, é uma
questão de tempo: saber alocar os acontecimentos num conjunto tão coeso que
tudo seja transmitido ao espectador num fluxo contínuo, porque tudo lhe foi
dito exatamente quando se deveria dizer. É óbvio que esta arte, a arte dos
contadores de histórias, é um exercício paulatino e paciente da sabedoria que
oculta e desvela, que dilata e encurta, na cadência devida. Mas nos prova Dwan
que nem sempre este ritmo deve ser tão quieto, principalmente quando os dramas
humanos são tão indômitos. Para ele, a arte de narrar era mais que uma questão
de (pouco) tempo: era uma questão de segundos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário