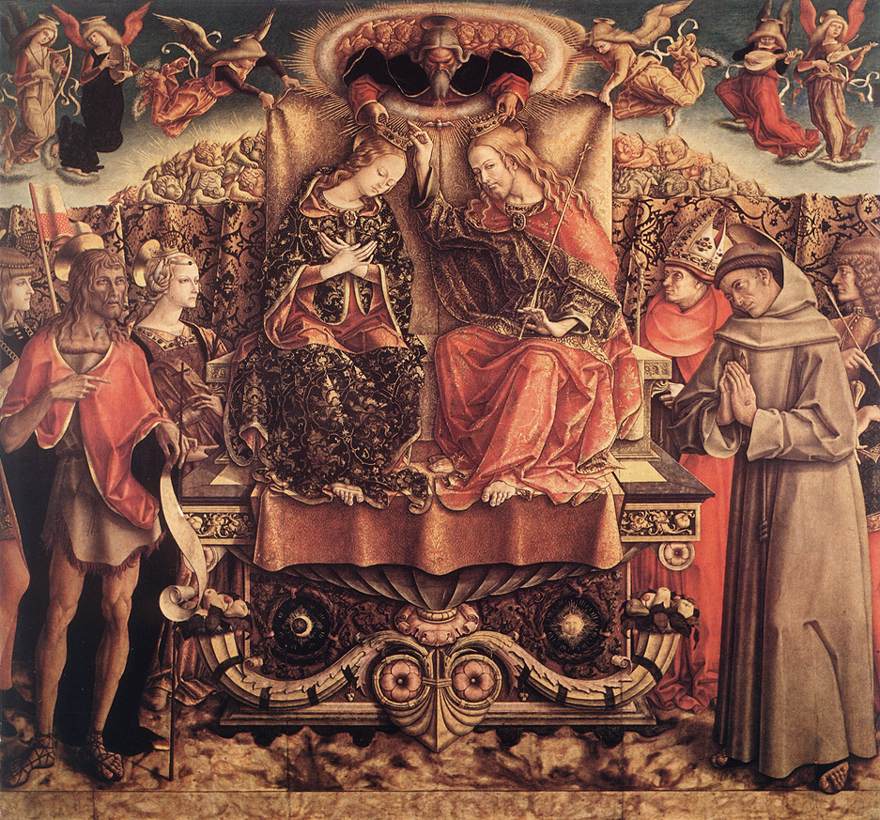Quando a Hammer anunciou em 1956 que iria produzir The Curse of Frankenstein, a Universal Pictures proibiu terminantemente o uso de qualquer imagem que remetesse ao filme de 1931, o que obrigou os produtores a uma retomada do romance original ao mesmo tempo em que reinventava o personagem. O Frankenstein da Hammer, interpretado por Peter Cushing, difere substancialmente de seus antecessores. Em Mary Shelley, ele é o cientista que almejava ser o Moderno Prometeu, mas que recua imediatamente diante do sucesso de sua empreitada, sendo responsável por sua desgraça, pela desgraça de sua criação, e pela desgraça de seus amigos e familiares. O romance é uma longa lamentação, uma confissão, uma exposição do remorso de Victor, por ter alguma vez ousado tomar o lugar de Deus. O Frankenstein de James Whale (1931) é mais autoindulgente, recuando apenas quando percebe que a criatura é um homicida incontrolável. Mas o Frankenstein concebido pelo roteirista Jimmy Sangster, pelo diretor Terence Fisher, e pelo ator Peter Cushing, é a antítese de tudo isso: frio, cerebral, calculista, psicopata (no sentido estrito de “incapaz de empatia”), e, ao contrário de suas encarnações anteriores, não apenas não se horroriza com o homicídio, como o comete sem nenhum remorso. Tudo que o interessa são as suas pesquisas. Imbuído de uma autoproclamada superioridade moral e intelectual, ele destrói qualquer coisa que se coloque entre ele e seus objetivos.
Jean-Jacques Lecercle vai deplorar esta releitura que, segundo ele, é desprovida de contradições que nos façam nos identificar com o personagem. O Frankenstein da Hammer encarna uma espécie de mal absoluto, sem nuances, desprovido de um mínimo de humanidade que nos possa fazer compartilhar, vicariamente, de sua grandeza e de sua tragédia. No entanto, me parece que Lecercle deixou escapar (mas não tanto) um dado fundamental: esse Frankenstein de 1957 foi realizado 12 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, assim como o Frankenstein da Universal 13 anos após o término da Primeira. A Grande Guerra, que boa parte dos historiadores considera como o marco do verdadeiro início do século XX, esfriou o otimismo com que o grande público enxergava os poderes da ciência, otimismo esse responsável pela popularidade da ficção científica e da proto-ficção científica. A ficção científica entrou em certo declínio na Europa e conheceu uma formidável ascensão nos Estados Unidos, o único país na época que, saindo fortalecido da guerra, tinha razões para crer no progresso da ciência. O retrato do Dr. Frankenstein no filme de 1931 mostra um cientista mais ousado, mais tomado pela húbris, embora com algum resquício de moralidade diante do horror. O Frankenstein da Hammer é o Frankenstein pós-campos de concentração, pós morticínio planejado, calculado, em escala industrial. Pós-experiências genéticas absurdas do Dr. Josef Mengele em Auschwitz, pós-experiências biológicas absurdas do Dr. Trofin Lysenko na União Soviética. Se esse Frankenstein nos parece uma figura plana, sem ambiguidades, sem contradições, por outro lado nós tivemos exemplos bastante concretos e reais de até onde a insensibilidade diante dos resultados de uma experiência catastrófica poderia ir. O Dr. Frankenstein da Hammer é o nosso Frankenstein.
É evidente que diante desta figuração, a criatura perdeu o estatuto que havia adquirido com Boris Karloff. O foco passou a ser o médico, e não o monstro. Ou seja: “the man who made a monster” foi erguido de sua queda e conheceu nova ascensão, solidificada graças as sequências que foram feitas. Mas, uma vez que o Mito Frankenstein estava incontornavelmente solto, liberto, unbound, sua ascensão se fez totalmente à revelia do romance original, e gerou seis sequências que expandiam, adulteravam e contradiziam o texto e o filme originais de modo radical.
A primeira sequência, The Revenge of Frankenstein (1959), chama atenção a partir do título: dupla vingança, da personagem em seu novo contexto, e do mito como um todo. Não apenas recuperará o seu estatuto original como irá muito mais longe, estabelecendo um cânone ficcional próprio.
O segundo filme da Hammer começa exatamente onde termina o primeiro, com o barão marchando para o cadafalso para ser guilhotinado. Escapa e passa a clinicar com outro nome, Dr. Stein, além de prestar serviços médicos para os pobres e necessitados. Essa “caridade” praticada pelo médico esconde os seus reais objetivos: encontrar carne fresca para seus experimentos, no caso, um corpo construído que receberá o cérebro de um aleijado, responsável por ajudar o “bom doutor” em sua fuga em troca de um novo corpo. No romance de Mary Shelley, bem como nos filmes de 1931 e 1957, Victor constrói a criatura com partes de defuntos recém-sepultados. Em Revenge, ele a constrói com membros de homens vivos, falsamente diagnosticados com doenças passíveis de amputamentos. A evolução da personagem em direção a uma maior deterioração moral, bem como a um avanço em sua ciência, é evidente. Avanço científico e colapso moral. Como disse E. Michael Jones em seu Monsters from the Id, “O horror é a moralidade escrita às avessas. É a ordem moral vista pelo lado errado do telescópio”.
O roteiro, mais uma vez de Jimmy Sangster, surpreende não apenas no desenvolvimento do personagem, mas na capacidade metalinguística e autorreferencial. Um momento notável é quando o Barão é confrontado com a descoberta de sua identidade pelo jovem Dr. Hans Kleve (Francis Matthews):
STEIN: So, and what if I am this Baron Frankenstein?
HANS: Are you?
STEIN: Just now you were telling me, now you’ re asking. Dr. Kleve, why are you so interested in this gentleman?
HANS: I’m in search of knowledge.
STEIN: Oh, knowledge! Oh, so that’s it! My name is Frankenstein, I’ll admit.
HANS: Ah!
STEIN: But it’s a large family, you know. Remarkable since the Middle Ages for its productivity. There are offshoots everywhere, even in America, I’m told. There’s a town called Frankenstein in Germany.
Even in America, I’m told. A ironia não poderia ser maior. O Barão, com sua dupla nacionalidade – suíça enquanto criador, inglesa enquanto criatura – tem a sua vingança, escarnecendo da usurpação generalizada, perpetrada pelos estadunidenses da Universal Pictures.
O filme se encerra com o linchamento do Dr. Stein pelos seus pacientes, quando sua verdadeira identidade é revelada. Prestes a morrer, ele ordena ao apavorado Dr. Kleve que transfira o seu cérebro para um corpo recém-construído. Sua nova identidade, Dr. Frank, instala-se em Londres. Percebemos que seu novo braço, tatuado, é o braço amputado de um marginal de rua, interno do hospital onde sua identidade pregressa clinicava.
Os dois primeiros filmes da franquia Hammer formam um conjunto harmonioso, tanto na mise-em-scène como no roteiro. Sete anos depois, o estúdio norte-americano percebeu o potencial financeiro das produções britânicas. O terceiro filme da série é surpreendente, o que, no caso, não é um elogio. The Evil of Frankenstein (1964) ignora quase tudo que sucedeu nos filmes anteriores. Esperamos, como espectadores, encontrar o Dr. Frank com seu braço tatuado clinicando em Londres e dedicando-se a novos, mais ousados e macabros experimentos. Mas não. Nesta sequência, nunca houve prisão, condenação, guilhotina, fuga, nova identidade, quase-morte, transplante de cérebro e braço tatuado. Nunca houve Londres. Reencena, em flashback, os acontecimentos do primeiro filme, modificando bastante a história. A reminiscência de sua criação primordial remete ao filme da Universal, o que se explica por razões contratuais: a produtora distribuiu o filme nos Estados Unidos e finalmente cedeu os direitos de uso da iconografia dos anos de 1930: o design do laboratório, a maquiagem de Boris Karloff, o moinho, o tema da noiva – Rena, uma jovem surda-muda interpretada por Katy Wild. Na verdade, este terceiro filme quebra a continuidade com os outros porque ele foi uma tentativa de fazer aquilo que sempre foi o projeto original da Hammer: refilmar o clássico de 1931. Infelizmente, vislumbrando uma maior distribuição de seus filmes mundo afora, o estúdio não se importou de descartar a originalidade conseguida com a dupla Curse/Revenge, e recomeçou a história praticamente no ponto em que o primeiro filme de Whale se encerra. Com um roteiro fraco, desta vez escrito por John Elder, direção pouco inspirada de Freddie Francis e dispensando as premissas engenhosamente arquitetadas pela dupla Fischer/Sangster dos dois primeiros filmes, The Evil of Frankenstein é uma decepção. Seu único momento memorável é a abertura, onde a dissecação de um cadáver fresco é mostrada, juntamente com os créditos iniciais, apenas com a imagem em close do rosto febril do Barão.
No entanto, este pouco apreço pela coerência interna deste mundo ficcional que estava sendo construído vai acabar por reforçar o potencial mítico do personagem. Mas isso já é outra história.