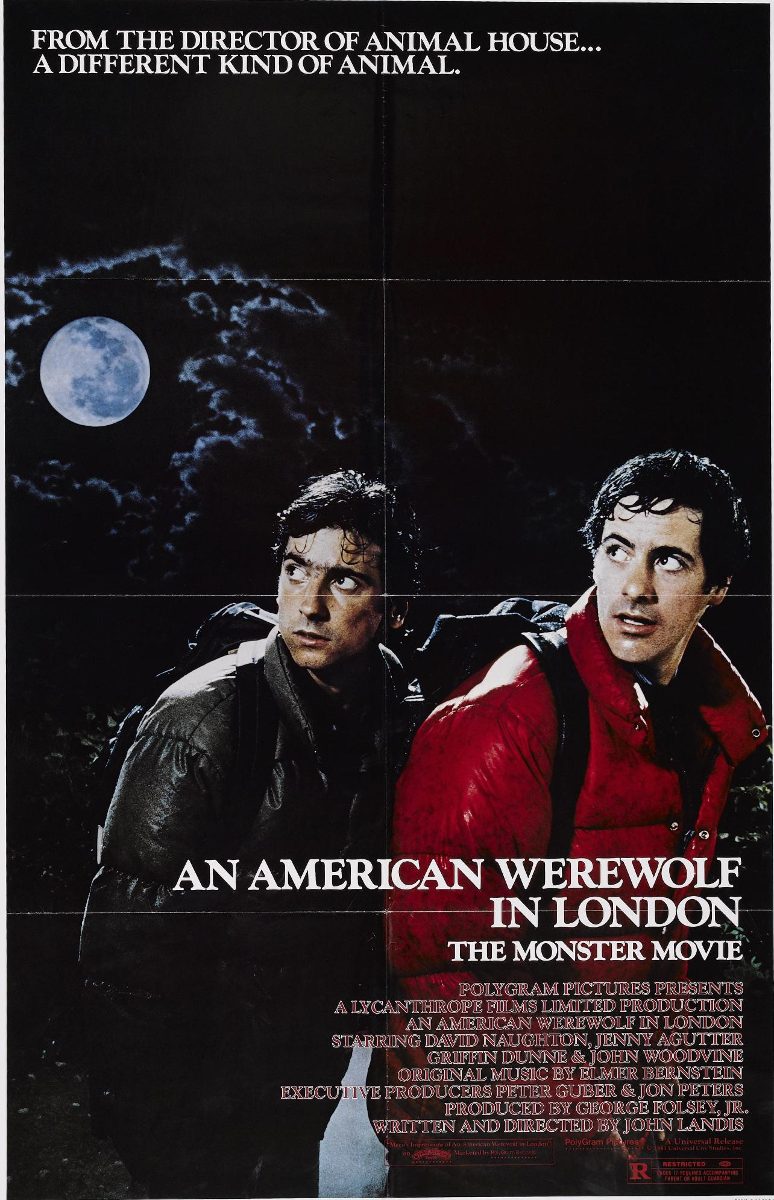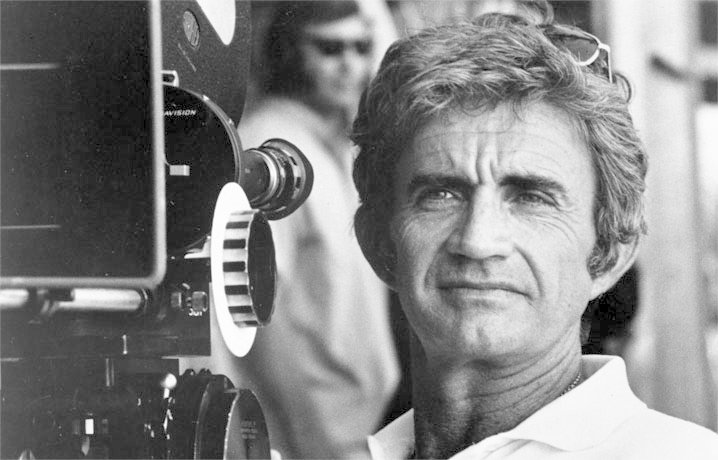Minha estreia na Broadway
-
Antes de ser diretor, fui ator por muitos anos, atuando em musicais, dançando e
cantando um tanto mal, aliás. A televisão concede a oportunidade de me assistir
de novo, infelizmente. Acho que se eu fosse minha mãe, eu teria me afogado...
Interpretei
na Broadway, em especial, um musical de Rodgers e Jerome Kern, Very Warm For Me, no qual havia uma bela
canção e cuja carreira foi infelizmente curta: All the Things You Are. “Entre parênteses”, os cenários foram
concebidos por Minnelli.
Então,
fui para o rádio. Um dia, quando eu ia desistir de tudo, consegui um papel em
uma peça de Max Gordon, My Sister Eileen,
que foi um sucesso. Também atuei no filme, e a MGM me levou sob contrato.
Também trabalhei em Babes on Broadway,
ao lado de Judy Garland e de Mickey Rooney, onde dançava e cantava sempre, e em
muitos outros filmes.
Depois
da guerra, trabalhei novamente como ator, mas demorei terrivelmente para me
tornar diretor. Pareceu-me, olhando para mim na tela, que se eu mesmo tivesse
me dirigido, teria sido melhor!
Atuei
também em The Clay Pigeon, de Dick Fleischer, Richard Fleischer, um cineasta que eu
admirava, e no Command Decision de
Sam Wood. Isto foi depois de ter realizado meu primeiro filme para a Columbia,
em 1948, uma experiência emocionante para mim.
Um
dia, com um dos meus amigos, Willy Asher, escrevi um roteiro por mera diversão
e o enviamos, sem esperanças, para diferentes estúdios. E então, recebi um
telefonema de Harry Cohn que me contatou e perguntou o que eu queria. Eu não
queria nada, apenas dirigi-lo. Ele perguntou o que me fez pensar que seria
capaz. Eu disse a ele que não sabia de nada, mas que nunca teria aprendido a
nadar se tivesse me contentado em assistir Esther Williams ou Johnny
Weissmuller... Era um jogador, minha determinação o impressionou, meu desejo
foi concedido. Depois de Leather Gloves,
eu tive que terminar meu contrato de ator na Metro, depois fui cotado como
“dialogue diretor” na Columbia, e, enquanto estava nesta posição, fui escolhido
para desempenhar pequenos papéis em Flying
Missile e Rookie Fireman. Me
senti pronto para tentar a sorte novamente. Cohn me pediu para fazer curtas de
comédia e eu dirigi a Hugh Herbert, Eddie Foy Jr, um verdadeiro slapstick... um treino maravilhoso.
Finalmente, recebi um musical de baixo orçamento, On the Sunny Side of Street.
Meu amigo Blake Edwards
Aliás,
eu havia dirigido, em Leather Gloves,
um jovem ator, Blake Edwards, de quem me tornei muito amigo. Nós éramos ambos
viciados em dança, em comédias musicais, etc., e eu pedi ao produtor para ter
Blake como roteirista. Ele aceitou e escrevemos juntos sete roteiros que
dirigi.
-
Nós não vimos seus primeiros filmes, existem alguns que você acha que foram
bem-sucedidos?
-
Na verdade, não, mas nos ensinaram muito, a Blake e a mim, porque tínhamos
muita liberdade, proporcional à baixeza do orçamento, e como ninguém parecia se
importar com nossas excentricidades, tentamos as coisas mais loucas, para ver o
que funcionava e o que não funcionava.
Purple Heart Diary,
por exemplo, foi uma experiência notável. Um cara chamado Sam Katzman estava
produzindo filmes em alta velocidade, sete dias neste caso específico! Um dia,
quando termino uma cena, viro-me ao meu assistente e pergunto o que vem a
seguir. Ele diz: “Absolutamente nada.” Era o final do filme, e eu nem percebi!
Sound Off
marca o início de minha colaboração com Blake como roteirista
"completo". Havia Mickey Rooney que, na minha opinião, se você dirige
bem, é um dos maiores atores da história do cinema. Eu acho que ser uma estrela
infantil era uma desvantagem para ele, mas que talento!
-
É fácil dirigir?
-
É com Jack Lemmon, o ator mais fácil que eu jamais dirigi. Se, por um lado, com
os diretores que ele não estima, ele vai longe demais, de propósito, por outro,
ele tem um grande respeito pelo poder moderador do diretor em cena. Rainbow
Round My Shoulder e Cruisin Down the River foram duas outras produções da fábrica Blake
Edwards-Richard Quine. Depois, houve Siren of Bagdad, segunda e
última experiência com Sam Katzman. Eu não estou pronto para esquecer essa
parte da diversão! Fui convidado a fazer um filme com Patricia Medina e Paul
Henreid. Não precisava de dinheiro, mas aceitei cuidar de um roteiro inepto e
ridículo, com árabes, camelos, dançarinos, isso sem esquecer a areia. Tentei,
sem ninguém saber, fazer disso uma comédia, mas ninguém parecia prestar atenção
ao fato de que estávamos filmando um filme de verdade, o que me enfureceu. Eu
multipliquei os anacronismos de expressões coloquiais e outros traços
satíricos. Foi um triunfo, o dia da estreia, o maior sucesso de Sam Katzman!
O oposto de Wilder
-
Você parece trabalhar por períodos: as comédias musicais, os thrillers, as
comédias com Judy Hollyday...
-
Não foi uma escolha voluntária, preferi me adaptar à moda, porque. Ao contrário
de muitos diretores jovens de hoje, eu não consegui fazer um nome no teatro,
que estava em baixa, nem na televisão. E, embora eu ame o musical, eu não
queria me limitar a um gênero. Foi assim que fiz Drive a Crooked Road, meu filme favorito. Era quase um filme da
Nouvelle Vague, baixo custo, cenas externas... Se o assunto não era original,
acredito que a maneira de contar a história seja. Mickey Rooney, em um papel
incomum para ele, era sublime, e isso nos deu confiança.
-
O primeiro filme que vimos de você é All
Ashore ...
-
Gastamos todo o dinheiro da produção em algumas coisas divertidas, como o palco
onde Mickey Rooney, de armadura, canta Sir
Francis, the Dragon. Da mesma forma, a sequência do bar, com o pianista de
doze dedos, era bem engraçada, mas não tínhamos mais dinheiro para filmar o
resto, tivemos que ficar menos criteriosos.
-
Em Pushlover, parece que você queria
reverter a relação de Double Indemnity,
dando um papel simpático à mulher ...
-
Sim. Eu caminhava sobre o sopro de um grande diretor, Billy Wilder, muitos
detalhes eram idênticos, e nós tínhamos a mesma estrela, Fred MacMurray. Então,
eu realizei o oposto de Wilder quanto ao caráter dos personagens. Além disso,
atribuo mais importância às heroínas do que aos personagens masculinos, e é por
isso que Kim é tão interessante. Um cineasta é um pouco como um cantor ou um
homem do jazz. A criação consiste na execução, não no tema.
A dança deve fazer progredir a ação
-
Em My Sister Eillen, você cuida muito
das transições entre comédia pura e a dança.
-
Sim, tentamos integrar a parte musical na história. Os balés e as músicas não
eram gratuitos, eram os prolongamentos da ação e não peças postas sobre esta
ação. E isso não apenas por causa do viés artístico, mas por causa de condições
econômicas e geográficas. No mercado europeu, balés e músicas foram cortados em
muitos filmes. A fim de evitar que My
Sister Eillen fosse cortado em uma ou mais sequências, nós trabalhamos como
loucos para assimilar completamente a parte musical e a ação. Nós seguimos este
princípio novamente em So This is Paris.
-
Como você concebe a realização de uma cena de dança?
- Ah,
sou um felizardo por ter sido dançarino antes e por ter atuado em musicais.
Começo a trabalhar com o coreógrafo, neste caso Bob Fosse, em My Sister Eileen. Então, precisamos
encontrar uma encenação que destaque a coreografia. Adoro filmar uma sequência
musical fazendo a câmera adentrar ao interior da música, cortar quando a música
exige, amplificar os movimentos da dança pelos movimentos da câmera. A dança
deve fazer a ação progredir. Lembre-se do balé entre Bob Fosse e Tommy Rall,
foi uma luta, dois homens se batendo por uma mulher, e um estudo de caráteres.
Eu gosto de que um balé repouse em uma base, uma trama que lhe
"humanize": somente um Fred Astaire pode fazê-lo sem uma trama.
Por
outro lado, se as danças de My Sister Eileen eram simples, era uma reação
contra as valsas lânguidas, as nuvens "poéticas", a lentidão, tudo o
que se tornou clichê, por causa do abuso que foi feito. Eu amo Minnelli e
Donen, sobretudo por conta de Seven
Brides for Seven Brothers.
Eu
não pretendo fazer uma comédia musical no presente momento, mas acho que o
gênero está sendo revivido, graças ao West
Side Story. Não acho o filme empolgante, comparado à peça, apesar da
fotografia, da música e da coreografia serem admiráveis.
Hollywood
precisava de tempo para entender que era impossível seguir regras imutáveis,
impor completamente alguma forma de música ao mundo. A influência europeia está
sendo sentida e, por exemplo, agora acredito que o jazz terá um papel vital no
musical. Eu sonho em fazer um filme de verdade sobre jazz, porque todas as
tentativas nessa área foram lamentáveis.
-
So this is Paris parece com My Sister Eileen?
-
Não, nem um pouco, não era realista, nem de perto. A história girava em torno
de três marinheiros em Paris e acho que foi bem-sucedido, engraçado, rápido,
cheio de paixão, com muitos balés e músicas, uma boa música. Foi lá que Henry
Mancini, que é um dos melhores compositores norte-americanos, conheceu Blake
Edwards... Tony Curtis nunca havia dançado, trabalhou duro com Gene Nelson e
conseguiu fazê-lo muito bem. Ele cantou elegantemente, como Janet Leigh em My Sister Eileen.
Exaltar a beleza
-
Há uma diferença entre os filmes que você fez com Blake Edwards como roteirista
e outros em um ponto essencial em seu trabalho: as mulheres.
-
Sim, muitas vezes temos as mesmas ideias, mas nesta área sou mais sentimental
do que ele. Ele é mais alegre, mais cruel e mais sofisticado. Nós completamos
um ao outro, e assim alcançamos certo equilíbrio. Eu tenho a mesma coisa com
Georges Axelrod. O que me interessa é exaltar a beleza, se assim posso dizer.
Eu quero sentir a beleza de uma história, de um gesto, é neste sentido que
espero estar perto de Minnelli, que é para mim um mestre, porque justamente ele
possui uma aptidão extraordinária para a Beleza.
-
Chegamos a uma série de filmes que não gostamos: comédias com Judy Holliday.
- Elas
são, em primeiro lugar, obras terrivelmente americanas, integradas à estrutura
econômica dos EUA, a uma forma de governo, um modo de vida, etc., o que as
torna inacessíveis para alguns países. Por outro lado, The Solid Gold Cadillac não é muito pessoal. É uma sátira, e eu
devo admitir que eu não gosto de sátiras, a menos que seja integrada a um
gênero, como a comédia musical. Em si mesmas, elas não oferecem nenhum
interesse. Com Full of Life, eu caí
em uma armadilha provocada por mim mesmo. Queria ser um apelo à tolerância
religiosa e isso foi totalmente esquecido. Como aconteceu com It Happened to Jane, regresso aos filmes
de Capra ou McCarey, por exemplo, a quem eu amo. Pareceu-me que eu tinha que
fazer este filme, era importante, socialmente, para perceber, para reagir
contra a indolência que era galopante nos EUA. Mas, no fim, eu senti falta
disso completamente. Assim é a vida.
A mulher americana
-
Você tem uma predileção por certos atores?
-
Sim, um Jack Lemmon, um Ernie Kovacs. Mas eu não penso que é necessário se
limitar aos mesmos comediantes, porque isso é uma política de facilidades. De
qualquer maneira, a direção dos atores é o que me parece o mais importante. Os
atores pensam, têm ideias que podem ser boas, por isso não faço uma decupagem
técnica: improviso isto em cena.
-
Acreditamos que seus dois melhores filmes sejam Bell, Book and Candle e
Strangers When We Meet.
- Durante as
filmagens de Bell, Book and Candle,
eu comecei a “sentir” muito mais a câmera, passei a ter um prazer maior em
usá-la, a ter um maior prazer para me servir dela. As experiências na cor, com
James Wong Howe, me excitaram muito. Eu pude me interessar, da forma que o
entendia, por um ponto crucial disto: o cenário. Fiquei muito feliz também com
os figurinos desenhados por Jean Louis. Então, eu realizei tudo muito
descontraído.
-
Esses dois filmes não são nem dramas nem comédias, mas estudos bastante
íntimos.
-
Sim, acho que nunca estamos mais perto das lágrimas do que quando rimos e
vice-versa. Fascina-me manter o meio termo, não jogar nem com um, nem com o
outro.
-
Strangers When We Meet é uma
desmistificação do sonho americano?
-
Faz muito tempo que eu queria dizer coisas que achava que eram relevantes,
especialmente para o público americano. O sonho americano é um conto de fadas
perigoso e pueril que deve ser desmistificado e que deu ao cinema americano
aquele lado "a Justiça e o Amor devem triunfar", que eu não gosto. A
moral geralmente ensinada pelo cinema é revelada na vida de uma forma mais
simples, como no fim de Pushover. No
meu filme, Kirk Douglas era o herói americano. Ele era rico, casado com uma
mulher bonita, tinha tudo o que queria, exceto a felicidade.
Quanto
ao papel de Kim Novak, ele é o exemplo mais triste dessa moralidade americana.
Kim, no filme, é uma daquelas jovens que, por meio de sua educação, não
conseguem aceitar sua beleza e olhar honestamente para a realidade. Casadas
cedo demais, por medo dos homens, vivem miseravelmente e não vão além de um
certo nível mental, até encontrarem um amor verdadeiro, uma prova flagrante de
seu fracasso. E elas se sentem culpadas por sua beleza, daí um terrível clima
de puritanismo. É uma daquelas mulheres que eu queria pintar com o máximo de
ternura possível.
O
sonho americano também se manifesta na surpreendente habitação que Ernie Kovacs
faz Kirk Douglas construir, um símbolo de amor nascido entre ele e Kim, e
socializado: todo americano quer possuir algo que seja prova de poder. Uma vez
que ele possui, ele percebe que não tem a força para suportar esta prova, que
se torna um fardo, uma carga.
Mas
eu fazer o oposto de Marty,
destacando o máximo possível a beleza plástica, graças à cor, em particular.
O
modo de vida americano seria maravilhoso se as pessoas se comportassem como
adultos. Para isso, devemos nos livrar da noção de culpa, que leva à mentira, à
perversidade, à dissimulação.
Private joke, slapstick e nonsense
-
Em Suzie Wong, o personagem de Robert
também recusa uma moralidade americana.
-
Isso mesmo, mas deixe-me dizer-lhe que Suzie
Wong não me toca em particular. Eu não acho que esse romance interracial,
notavelmente comercial, seja muito honesto.
-
Nós gostamos muito das cenas de amor...
-
Você me faz feliz, porque é o que eu gostava de fazer no filme. Eu queria
evitar a sordidez ou o defeito, o lado viscoso inerente a esse tipo de filme, e
dar uma impressão de doçura e bondade. Por outro lado, a primeira cena de amor
é muito parecida com a de Pushover.
-
Agora chegamos a Notorius Landlady
...
-
Fiquei tentado pela ideia de misturar o humor inglês e o humor americano e
integrar o absurdo à realidade. Blake e eu nos entregamos a algumas piadas
particulares de Alfred Hitchcock, prestando homenagem a ele dessa maneira. Mas
eu não tive tempo suficiente para preparar o roteiro, o que explica as
fraquezas do filme. No lado técnico, me diverti muito com o zoom, truque
fascinante para a comédia. Eu também gosto da mistura de comédia e ação, como
na sequência final. Estou pensando seriamente em fazer um filme que seja apenas
um slapstick (palhaçada), uma
homenagem a Mack Sennett ou a Buster Keaton. Em Paris When It Sizzles, que será ao mesmo tempo drama e comédia,
haverá uma aura de perseguição e de nonsense.
(Richard
Quine, em entrevista a Bertrand Tavernier e Yves Boisset; extraído da
entrevista intitulada Introducing Richard
Quine, publicada originalmente em Cahiers du Cinéma, n. 134, agosto de
1962, p. 17-24; tradução: Beatriz Saar)