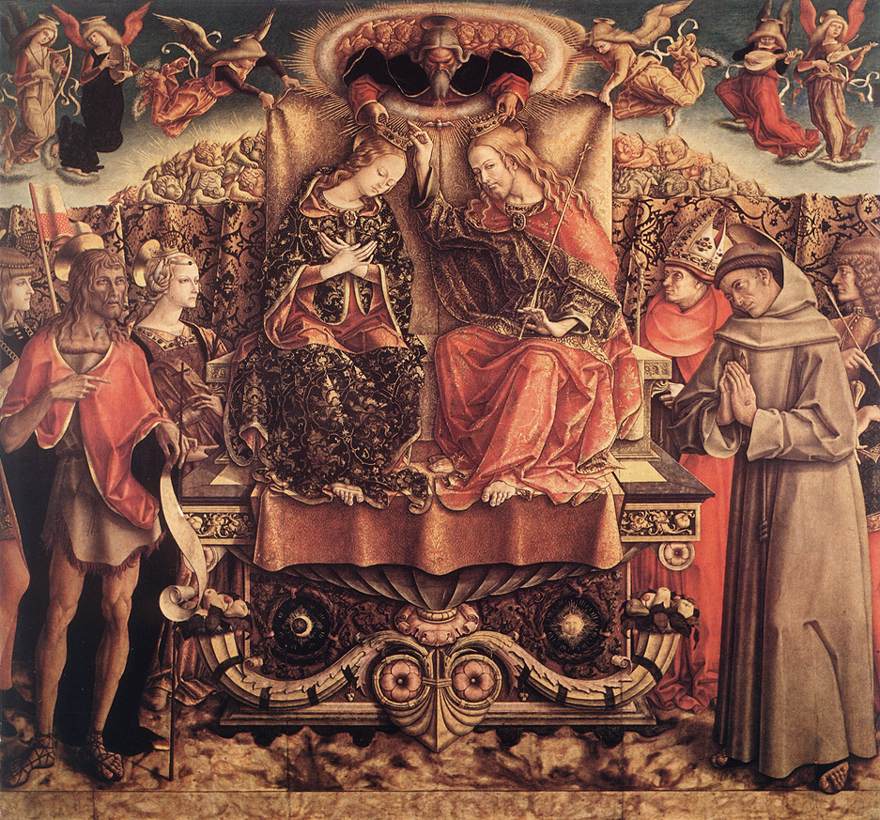
O
nome de John Farrow, aparentemente inaudito pela cinefilia atual, parece ter
sofrido não só hoje, mas já há bastante tempo, a marca de pechas não muito
justas que recaem sobre sua estranha passagem pelo mundo do cinema. Antes de
ser diretor, foi escritor e marinheiro da Royal Naval Academy, título que o fez
chegar a Hollywood como conselheiro para a produção de filmes marítimos. Atuará
inicialmente, para além dessa função de conselheiro, como roteirista para, mais
tarde, chegar à direção. Convertido ao catolicismo, será um dos mais influentes
membros da “liga da decência hollywoodiana” e esta, talvez, permaneça sua
principal marca a ser maldita por aqueles críticos que, mesmo lhe tecendo
elogios, consideraram-lhe um mero moralista.
Independentemente das benesses ou dos malefícios trazidos
pelos grupos moralizadores presentes no cinema clássico americano, é fato que a
cosmovisão religiosa de Farrow atingiu de modo definitivo sua obra, mesmo que,
em algumas ocasiões, de modo não tão evidente.
Seu melhor filme, “O Enviado de Satanás”, é uma prova
bastante clara disto, mas talvez não da forma como os críticos do diretor
possam supor. Seu sentido religioso não se constitui meramente a partir de uma
mensagem moral ou da formulação de personagens que possam aludir a moldes
típicos da lide do homem com o problema do bem e do mal. Isto, naturalmente, não invalida o fato de
termos, aqui, presentes vários arquétipos humanos cujas personalidades são
erigidas num campo para além da imagem projetada: Nick Beal, o grande demônio
interpretado por Ray Milland é o tipo perfeito do tentador que cerca por todos
os lados suas vítimas; aqueles que estão a sua volta e que por ele se deixam
conduzir são os homens, quotidianamente inseridos no “mistério da iniquidade”
disposto neste mundo, que, muitas vezes, os cega e os afasta da verdade. No
entanto, em Farrow este “senso teológico” vai mais além e recai mesmo para as
formas fílmicas imagéticas e, mais especialmente, para sua mise-en-scène.
Este dado denota algo de mais profundo e mais específico
sobre o fazer artístico presente em sua obra: se tem o cinema uma das vocações
da chamada “arte-total”, no sentido de ser uma daquelas modalidades artísticas
que têm a capacidade de mimetizar as mais diversas dimensões sensíveis da
realidade, de certa forma, mais do que outros artistas, o cineasta é chamado a
dar a ver sua cosmovisão sobre o mundo a partir da construção de uma espécie de
mundo-reflexo ou de mundo-paralelo, que é sua obra de arte: o filme. Não se
trata necessariamente de que esta afirmação tenha, por detrás, uma obrigação
para com o realismo, ou seja, para com a imitação fiel do mundo tal e qual se
lhe percebe: este mundo-reflexo é, antes de tudo, um objeto simbólico que
sinaliza em direção à realidade (e à visão cosmológica acerca dela), mesmo que,
por vezes, de modo alegórico ou metafórico. E é natural que, no cinema
dramatizado, onde o mundo, por assim dizer, é
a cena, o dever do cineasta, para além da inserção de tipos humanos, de
narrativas, de episódios e situações, no corpo constitutivo do filme, é também
o de recriar a realidade não só por esses elementos, mas pela mise-en-scène, ou
seja, pela própria modulação imagético-espacial daquilo que é filmado. É isto,
no fundo, o cumprimento daquele velho jargão instituído por Alexandre Astruc e
que definia a autoralidade no cinema: a saber, que o “autor cinematográfico” é
aquele cuja escrita é a escrita da câmera, a escrita da imagem, da caméra-stylo.
E é tudo isto que vemos na estilística presente na obra de John Farrow. Para
além dos “moralismos”, sua teologia e sua religião se constituíram em imagens,
em concepções de espaço, enfim, numa estética cinematográfica própria, onde
aquilo que meramente concerne ao “escritor Farrow”, àquele que edifica
personagens, homens a lidar com uma realidade perversa e com o problema de
Deus, é só um detalhe.
Neste “O Enviado de Satanás”, estes aspectos são bem
evidentes: Ray Milland não controla somente “os destinos” dos ingênuos, mas os
espaços onde podem ou não transitar: numa conversa sobre o futuro político de
Thomas Mitchell, Farrow aplica um tênue plano-sequência que mostra as idas e
vindas do impassível Thomas dentro de uma sala. Ray permanece parado, destacado
em primeiro plano. Tudo gira em torno dele e quando o homem a quem ele
encarcera o ordena que saia da sala, diz: “Acho que já acabei”. Nada lhe escapa
das mãos. Numa outra ocasião, ao ir para o apartamento de Audrey Totter para
convencê-la a fazer um discurso ensaiado peara o mesmo Mitchell, há um recurso
dramatúrgico genial, por parte de Farrow, com planos que se duplicam e se
refletem: Milland ensaia a moça lhe mandando dizer certas palavras, mas, ao
longo do discurso, certa coreografia impera: a mulher se levanta para repetir
algumas palavras, em outro momento se sentam os dois, lado a lado, numa poltrona.
Ela está vestida de branco. Quando
percebe que Mitchell está vindo, entra para o quarto e Ray se esconde. Ela
volta à sala para receber o inocente que havia chegado, mas, agora, vestida de
preto. Tudo ocorre novamente, como se fosse imagem da cena anterior: os dois
sentados na poltrona, os elementos coreográficos. O pouco que muda é
demonstração sutil de um dado cruel: a representação pode ser quase a mesma,
mas, agora, o que se encenava era a rendição de dois inocentes aos poderes do
mal, não mais o império de um demônio a mandar e desmandar numa mulher comum.
Essas sutilezas dão conta de que Farrow não pretendeu fazer um filme que
simplesmente narrasse o afastamento do homem em relação à graça ou sobre a
sedução do Mal. Sua obra é um verdadeiro exercício virtuosístico que utiliza-se
das formas cênicas para afirmar uma verdade eterna: aqueles que consentem com o
Inimigo estão presos por ele numa cegueira que conduz (algumas vezes em sentido
literal) à morte.
Esta estilística,
no entanto, não estará localizada somente em “Alias Nick Beal”, mas em vários
outros sucessos de sua carreira. Notadamente, “The Big Clock”, com o mesmo Ray
Milland, utilizará mais uma vez a linguagem claustrofóbica dos planos-sequência
para demonstrar as intempéries do destino que, assim como aos limites da imagem
filmada, são inescapáveis. Neste e ainda
em outros filmes sua homogeneidade autoral se verificará patente. Seu domínio
virtuosístico sobre a decupagem e a coreografia chegarão aos níveis de
excelência perpetrados por outros tão famosos por se utilizarem destes
mecanismos, como até mesmo Kenji Mizoguchi. Sua obra merecia mais do que a
pecha viciada que ganhou por aqueles que, algumas vezes, parecem amar mais a
liberdade artística do que o bem das obras de arte. Seu moralismo, se é que
assim pode ser chamado, era muito mais complexo do que se imaginou. Era uma
teologia cinematográfica.
Nenhum comentário:
Postar um comentário